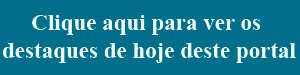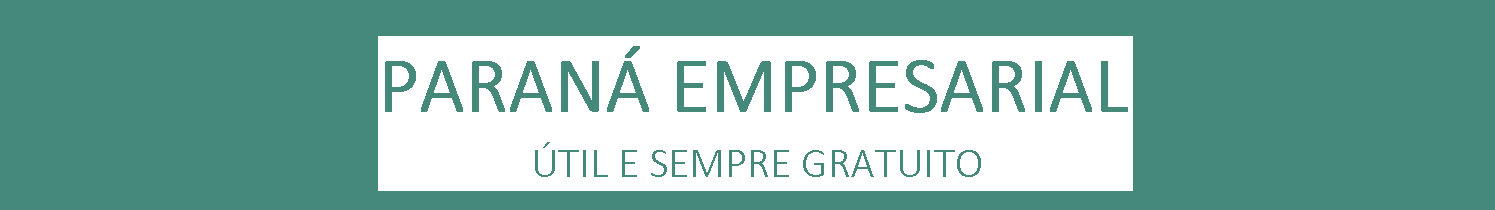Luiz Geraldo Mazza é a própria história do Paraná
Luiz Geraldo Mazza atua no jornalismo paranaense desde os anos 1950. A história dele é essencial para contar a própria história da imprensa no Paraná.
Mazza trabalhou em todos os veículos importantes, conviveu com grandes nomes e participou dos momentos históricos. Esta entrevista foi gravada em outubro de 1997.
José Wille – Mazza, você é de Paranaguá…
Luiz Geraldo Mazza – Meu pai é Arnaldo Mazza Junior, de Curitiba, e minha mãe, Nair Veiga Mazza, é de Paranaguá, da família Veiga, família tradicional. Eu nasci na rua Visconde de Nácar, em Paranaguá, numa casa habitada por mitos, pois teria sido ocupação de jesuítas, e eu costumava ouvir minhas tias e minha mãe dizendo que às vezes viam de noite os padres por lá. Eu vivi toda a minha fantástica infância entremeada desse tipo de informação. Até a história incrível de um raio que entrou por uma porta, saiu por outra e bateu em uma banheira.
José Wille – A infância em Paranaguá foi muito marcante em sua vida.
Luiz Geraldo Mazza – Evidente, pois nós temos em Paranaguá aquela paisagem, aquele cenário maravilhoso, povoado dessas lendas às quais me referi, aquele túnel sem fim que teria uma cobra de ouro, tudo isso é de Paranaguá. Paranaguá das suas ladeiras, Paranaguá do seu casario. E eu tinha a minha atividade, os jogos infantis que não deixavam me aproximar do rio Itiberê, que é o berço de referência civilizatório de Paranaguá. Tomávamos banho em um lugar chamado Condor, porque era o lugar onde amerrissavam os aviões da Condor, uma companhia alemã que fechou na época da guerra – eu me lembro dessa fase da minha infância: Condor era uma espécie de prainha do rio Itiberê, onde nós fazíamos o nosso banho.
José Wille – Com 9 anos chegando em Curitiba, a capital ainda tinha uma vida parecida com aquela da infância em Paranaguá?
Luiz Geraldo Mazza – Ah, tranquilamente! Em Curitiba, eu pude proporcionar até às minhas filhas, já nos anos 60, a oportunidade de fazer travessuras, de ocupar uma rabeira de carroça. Eu fiz isso várias vezes. Corria atrás da carroça, pedia à colona que estava na rua e a gente trepava na carroça, fazia rabeira. Fiz isso pelos campos de Curitiba, pois era uma cidade aberta até o começo dos anos 60. Nós tínhamos ainda os festivais de futebol, nos campos abertos pela cidade, que eram verdadeiras quermesses em todos os pontos da cidade.
Então, era uma alegria! O sujeito vivia a sua vida naquele núcleo. E eu saía a pé de casa, levando as crianças no carrinho de bebê, levava as duas e às vezes uma vizinha também, e ia até o parque do São Lourenço. Lá, eu punha uma pedra na roda do carrinho e dava um mergulho na água. Desaparecia na água para assustar as crianças, uma loucura… E fazia isso sistematicamente, procurando viver tudo isso. Havia também marchas, não tão grandes quanto essas dos sem-terra, mas marchas que nós fazíamos lá do centro da cidade até a Cascatinha.
.

José Wille – Aqui, você foi para a escola pública e, mais tarde, para o Ginásio Paranaense.
Luiz Geraldo Mazza – Eu fiz grupo escolar; fiz também uma escola-modelo, o Prieto Martinez; depois, o Tiradentes; e fui para o Ginásio Paranaense. Lá, eu peguei uma elite, um centro de excelência de grandes professores, comandados pelo professor Ribeiro, que impunha sua autoridade com discursos em latim, uma coisa incrível!
Houve até uma tentativa de depredar um jornal que tratou mal os alunos do Colégio Estadual, então Ginásio Paranaense, e ele saiu com um carro atrás, citando Cícero, citando palavras latinas, chamando à ordem as pessoas, dizendo que não deveriam aceitar provocação. Parece que era a “Gazeta do Povo” o jornal que queriam depredar, que, acertadamente, criticou o pessoal da banda do colégio, porque, no dia de um desfile, em plena ditadura do Estado Novo, tocaram a conga, que era uma coisa como é o funk hoje. Imagine as pessoas fazendo o movimento da conga em um desfile do Ginásio Paranaense!
José Wille – Em 1950, você foi para a Universidade Federal fazer o curso de Direito. Por que essa opção?
Luiz Geraldo Mazza – A opção foi pelo seguinte: nós achávamos que o sujeito que não escrevesse poemas, que não fizesse literatura, não tinha vivido. Então, foi mais ou menos uma descarga de todo esse desejo literário que vinha desde o tempo do colégio e de uma relativa habilidade para fazer as redações. Este foi o interesse pelo Direito, que é uma cadeira abrangente em matéria de humanidade e é um dos cursos mais perfeitos sobre o ponto de vista da massa de informação que traz ao interessado nessa área.
José Wille – O seu interesse literário surgiu em que época?
Luiz Geraldo Mazza – Isso vem desde o ginásio. Eu não fui uma pessoa muito apegada à literatura. Mas, pelo tipo de ambiente que havia na escola, por causa das atividades extracurriculares, éramos provocados por professores, como o professor Rosário Farani Mansur Guérios, que era um linguista, uma pessoa preocupada com a língua, que até contava anedotas, tinha uma habilidade muito grande, uma versatilidade didática. Então, havia tal interesse, e também pelo cinema, que era uma coisa que começava a empolgar como arte.
José Wille – Como foi a sua ação política como estudante, nos centros acadêmicos, na década de 50?
Luiz Geraldo Mazza – Foi uma coisa incrível, porque nós vivíamos sob a influência já da Guerra Fria. Afinal, é nesse tempo que surgem as grandes questões da Coreia e tudo mais. Nós vivíamos discutindo tudo que estava acontecendo no mundo e achávamos que a nossa intervenção mudaria o curso da história. Eu me lembro claramente, isso já lá pelo terceiro, quarto ano de Direito, do casal Rosemberg, que foi condenado à morte por ter transferido informações para a União Soviética sobre a bomba atômica. Nós fizemos uma assembleia do centro acadêmico no anfiteatro e houve aquela briga ideológica de direita e esquerda – e, obviamente, estávamos na esquerda. Houve tentativa de sabotagem, de apagar a luz, 1000 oradores se revezando na tribuna para ganhar tempo, para tentar ganhar pelo cansaço.
E nós, na madrugada, conseguimos aprovar o envio de um telegrama ao presidente dos Estados Unidos, pedindo a comutação da pena. Saímos da faculdade como se tivéssemos ganhado uma batalha. Veja o que é ilusão, no sentido da vida que a gente levava na universidade. Fomos para o bar tomar as nossas pingas e mandamos o telegrama, achando que era uma vitória. O presidente americano não deu bola e o casal Rosemberg foi devidamente executado.
José Wille – Essa atuação na vida política já era expressiva ou eram poucos os estudantes que tinham essa preocupação, a visão ideológica e a participação?
Luiz Geraldo Mazza – Havia divisores na universidade. Havia o pessoal do hedonismo, do prazer, que se ligava muito aos bailes, na questão do baile do diretório, de outros diretórios acadêmicos, o Chá de Engenharia, que foi o grande ponto de encontro para romper barreiras em Curitiba entre o pessoal que vinha de fora para estudar aqui e que se casava com as moças daqui, e isso era um acontecimento. Em 1949, tivemos uma Olimpíada Nacional aqui.
Eu estava no último ano do curso científico e lembro do agito que foi na cidade. Curitiba, nessa época, era uma cidade universitária, o elemento universitário pesava muito na vida da cidade. Inclusive esse nosso ministro, ex-ministro criador da Vale do Rio Doce, o Eliezer Batista, era chamado de Bóris Bacana e ficava na esquina com um cravo vermelho na lapela, sendo motivo de atenção das pessoas e brigava… Tinha o líder comunista Castelutti…
Era uma agitação em Curitiba, os estudantes tomavam conta da cidade… Eram as vacas sagradas em Curitiba, porque ninguém tratava mal o estudante. Todos viviam em repúblicas, essa coisa toda, era a característica da cidade nessa época. Isso mudou severamente com o passar do tempo, mas eu peguei uma parte disso. Então, tinha esse grupo, um grupo engajado na política, e tinha outro, que curtia mais atividades esportivas e atividades ligadas à recreação, aos bailes… Então, nós, os engajados politicamente, achávamos que estávamos com a razão. Inclusive alguns se recusavam até a participar do que é bom – dos bailes, por exemplo, tal a maneira fanática com que se aliavam ao processo político.

José Wille – Como era vista essa participação, essa visão ideológica esquerdista, em uma cidade que era muito conservadora naquela época?
Luiz Geraldo Mazza – Era muito comum em Curitiba a força da esquerda. A esquerda chegou a eleger em Curitiba uma moça para vereadora, Maria Olímpia Carneiro. Uma dupla, Maria Olímpia Carneiro e Edel Asa, que era estudante de Engenharia. E, antes, houve a eleição para deputado do professor Vieira Neto. O pessoal foi eleito por outra legenda, porque o partido já estava proibido no Brasil; então, eles se revezavam. Mas foi uma eleição típica de como esse clima estudantil pode ajudar a chegar a esse ponto de conseguir o quociente necessário para eleger pessoas de esquerda em uma cidade que – nós sabemos – até hoje é meio resistente a esse tipo de posicionamento.
José Wille – Ao mesmo tempo em que você atuava politicamente como estudante de Direito, começava a atividade paralela de jornal, trabalhando no “Estado do Paraná”, escrevendo sobre literatura. Como foi esse início, que marcaria depois sua atividade, principalmente como jornalista e não como advogado?
Luiz Geraldo Mazza – Em 1950, o Bento foi eleito. Aqui tem um paralelo interessante na história da imprensa do Paraná, que prova que hoje nós temos uma imprensa muito alinhada ao governo. Naquela época, não. O jornal “O Dia” pertencia ao Lupion. A “Gazeta do Povo” tinha uma grande parte das ações pertencentes ao Lupion. E existia ainda a Rádio Guairacá, que era a nossa rádio mais moderna, a que tinha sofisticado um pouco o clima de rádio, que foi afinal pioneiramente tocada pela Rádio Clube.
Então, era todo um complexo de comunicação que pertencia ao Lupion. Quando o Bento Munhoz da Rocha foi eleito, em 1950, o grupo que o apoiava decidiu montar um jornal em Curitiba, que foi o “Estado do Paraná”, que era do Aristides Merhy, dono do Palácio Avenida, que está agora com o Bamerindus; o Fernando Camargo, cunhado do Bento Munhoz da Rocha; e o José Luiz Guerra Rego, alagoano aparentado também por casamento. Esse era o jornal feito para dar cobertura, para opor-se a toda aquela barragem que tinha a favor do Lupion.
Então, existia contraste no Paraná, coisa que não tem hoje. Apareceu ainda na sequência o jornal “Diário do Paraná”, que era do jornal “Diários Associados”, do Chateaubriand, que aqui no Paraná era tocado por Adherbal Stresser. E foram para o lado do Bento, esses dois jornais. Viria ainda a “Tribuna do Paraná” e depois os outros jornais. Esse era o divisor. Porque, quando chegou o governo do Ney Braga, nós sentimos que havia quase uma espécie de alinhamento dos jornais em relação ao governo, o que favoreceu a decolagem de um grande governo, o de Ney Braga, mas que, em compensação, deixou a imprensa de certa forma castrada por falta de espírito crítico.
Eu entrei no “Estado do Paraná” para fazer literatura, escrevia uma crônica por semana e ganhava, veja que coisa maluca, o que ganhavam os jornalistas para trabalhar o mês inteiro. Não que eu fosse o bom, mas é que ninguém ligava para esses valores. Eu não tinha registro profissional, era funcionário do estado, do governo, e fazia esse trabalho de uma maneira efetivamente ligada à arte. Recebia por isso. Fiz meu nome em cima disso e só ressalvo que a sociedade não era consumista, razão pela qual os jornalistas tinham um emprego público e eram pessoas que conservavam um necessário espírito boêmio.
Muitos gostavam de jogar, viver à noite e não havia essa disposição de procurar bens. O automóvel mesmo era uma coisa difícil, pois era importado. O Brasil só iria despertar mais tarde para a indústria automobilística. Então, a nossa inspiração era: casa própria e o direito à dispensa da CISA para conseguir a casa. Nós tínhamos o imposto de renda, que não pagávamos. Tínhamos desconto de 50% em passagens de avião. Toda uma série de privilégios que o regime na época conferia aos jornalistas.
José Wille – A atividade de jornalista já não era uma garantia financeira na época. E, mesmo assim, sua opção na época foi pelo jornalismo e não pela carreira de advogado, que você poderia ter seguido. Por quê?
Luiz Geraldo Mazza – Bom, mas o jornalismo profissional começa mais ou menos na transição dos anos 50 para os 60. Não com legislação, mas com papéis de responsabilidade de direção, de administração dos jornais. Aquele espírito boêmio, aquele negócio de entrar, por exemplo, anúncio classificado pela janela da “Gazeta do Povo”, isso é história folclórica do jornalismo paranaense – e que realmente ocorria – mas mostra a maneira como eram tocados os jornais, sem um sentido gerencial moderno.
E para os jornalistas, com essa boêmia toda, não havia fixação. Quando aparece o “Diário do Paraná”, ele traz esse sentido. Só cometeu um equívoco: ele não pagava. Mas nós tínhamos o orgulho de trabalhar num jornal que trouxe tantas inovações para cá – por exemplo, a diagramação. Ninguém sabia o que eram a diagramação, o layout, o desenho, a técnica de lead, a mudança da concepção de redação, porque anteriormente se fazia o nariz-de-cera – antes de contar a notícia, fazia-se um discurso.
Era assim o jornal. Trouxe também o teletipo… E o jornal tinha outra característica: quando tinha uma informação, era acionada uma sirene e a cidade inteira sabia que tinha alguma coisa de novo. E aí corriam para o mural do jornal para ver nas paredes qual era a notícia. Eram comuns as edições extras, porque nós não tínhamos uma rádio versátil nessa época, que acompanhasse os acontecimentos. E o jornal via e atendia a essa necessidade do público.
José Wille – Mesmo depois, já casado, formado, trabalhando como jornalista, você continuava participando da agitação ideológica. E participando até de greves que não eram da sua própria categoria. Como foi isso?
Luiz Geraldo Mazza – É, essa inquietação vinha desde o tempo da universidade. Eu me lembro de uma coisa muito interessante. Um dia, o Luis Carlos Biazetto, que era diretor de uma entidade secundarista, queria fazer uma manifestação na praça Zacarias contra o aumento dos ônibus, um assunto que sempre me apaixonou, pois eu conhecia a questão operacional, custos, essa coisa toda.
Então, estava ele com um megafone e eu fiz um discurso. E estava lá perto o líder comunista Agriberto Azevedo, muito visado por causa do movimento de 1935, que era um eremita, uma figura maravilhosa, mas perseguido. Era um sujeito que tinha uma visão do mundo como se vivesse dentro de uma masmorra. Ele chegou para mim e reclamou do meu pronunciamento, dizendo “tem que denunciar o imperialismo”. E eu “espere aí, se você estabelecer uma relação entre um problema local e o imperialismo, eu até faria. Mas eu gostaria de ver essa relação”. Veja como era a questão ideológica: as pessoas de repente transbordavam com esse tipo de lógica pouco ou nada cartesiana.
A gente vivia nesse agito. No meio estudantil, eu fiz vários discursos. Eu me lembro de uma ocasião em que assassinaram um jornalista em Goiânia, e o fato se converteu numa cena demagógica: tiraram sangue do corpo dele e “aqui tombou alguém pela liberdade da imprensa…”. Falou o presidente da UPE, que era o José Cury, advogado; o Jairo Regis, que foi caçado em 1964; e eu. E, enquanto eu falava, vi um cinegrafista me filmando e não era o cinegrafista da Flama Filmes; era o pessoal da área de segurança. Mas o fato é que um desses filmes chegou a aparecer nos cinemas.
Inclusive, quando passou em Paranaguá, arranjaram um apelido horrível para mim lá: “aí, Lulu”. Era muito comum essa participação, a gente se envolvia em tudo… Em muita coisa de rua, acontecimentos de rua, uma agitação qualquer que não precisava ser política, a gente estava lá. A Revolta do Pente foi uma questão que acabou ganhando conotação política. Nessa aí eu também estava no rolo. E um dos sonhos da minha vida é que eu poderia controlar a multidão. Então, estava lá em cima do “Diário do Paraná” e, quando a multidão passou na rua José Loureiro, eu gritei “povo da minha terra”. Jogaram uma pedra lá, quebraram o luminoso do jornal. O que provou que eu não tenho lá muita persuasão para essas coisas.

José Wille – Mas até em greve de lixeiro você participou, tentando levar o movimento adiante. Como foi?
Luiz Geraldo Mazza – Foi uma primeira manifestação, porque o lixeiro não era como hoje, que é terceirizado. Eram funcionários da Prefeitura. Eu participei com o pessoal da Associação dos Funcionários Municipais, que pediu minha manifestação. Como eu vivia em permanente disponibilidade por esta causa, saí com o movimento. Vi que as pessoas não tinham a menor experiência; então, comecei a dar palavras de ordem: “estamos com fome, estamos com fome, estamos com fome” e fazia o Isaac Karabtchevsky, em três vozes, e ia marchando.
Quando chegamos bem na frente de onde funcionava aquela máquina de costura Singer, estava um ex-colega meu de faculdade. Então, o cidadão na porta fez um olhar de advertência e de discordância e de escândalo por me ver no meio daquela pobreza, meneou a cabeça e aquilo quase me arrebentou. Mas a marcha continuou, eu retomei o fôlego e continuei gritando “estamos com fome” e fomos para a sede da Associação dos Empregados do Comércio. E lá vi na mesa um cara dos organismos de segurança do governo, órgão equivalente ao SNI.
Eu fui fazer o discurso – tinha mania de querer mexer com a sensibilidade das pessoas – e comecei a me dirigir às mãos das pessoas em tom lamentoso “Essas mãos rudes que cravam a terra desta cidade…”. Falava desse jeito, eles me olhavam e eu via naquele olhar o cara quase chorando. E continuei no mesmo tom: “quero registrar aqui, no meio de nossa assembleia, um elemento da polícia” – “Onde está, onde está? – “Esperem, que eu notei que ele dissimulava ser um dos nossos, votando junto com a nossa assembleia, mas percebi claramente que ele começou a votar de tal maneira que me pareceu que já estava conscientizado e que era a favor da nossa causa…”. Aí, o cara foi para trás da cortina – era um cara da polícia que é jogador de futebol – e fez um sinal de top top para mim, para me assustar… (risos)
José Wille – E a greve dos jornalistas, você também estava lá, na liderança do movimento?
Luiz Geraldo Mazza – Não era bem liderança. É que havia uma acomodação no começo da década de 60 e nós discutíamos uma questão econômica, que também era a questão econômica dos gráficos. A gente ia partir para uma manifestação unitária. E, em uma assembleia, na sede do sindicato dos bancários, percebi que existia uma movimentação que confiava na vinda do ministro do Trabalho, que já era o Amaury Silva, grande figura por sinal. E o cara era candidato a governador… eu achei aquilo um absurdo, não tinha nada a ver.
Eu, hoje, nessas condições, estaria com esse pessoal que queria esperar o ministro. Mas eu achei aquilo uma manipulação indevida de uma causa e fiz um discurso para os operários. Não para os jornalistas; fiz para os operários que estavam lá. Porque aqueles eram os verdadeiros operários, embora operários intelectuais, que eram os gráficos naquela época da imprensa a chumbo, imprensa a quente. Fiz o discurso, discordando daquele tipo de situação que queriam criar. Imediatamente, recebi apoio, houve unanimidade, propus a greve.
E nós tivemos que fazer a greve. Quer dizer, na realidade eu propus uma coisa dificílima de encadear, e nós a fizemos com sucesso. Foi a única greve no Brasil que não saiu nos jornais, porque todos os outros fazem a greve e dão um jeito de imprimir os jornais. Vêm release de governo, dois, três funcionários, e dão um jeito. Então, fizemos a greve e foi um sucesso. O Nelson Comel, essa figura impressionante da “Tribuna do Paraná”, era o homem que cuidava da comida; ele e a mulher dele serviam a nossa base alimentar nos nossos piquetes grevistas. E foi um sucesso! Só que o “Diário do Paraná” conseguiu furar a greve e aí virou um problema de Guerra Fria. O próprio dono do “Diário do Paraná”, senhor Adherbal Stresser, colocou a questão em termos ideológicos, que era um abuso, que o jornal era a última reserva da democracia e tal.
Nós, como tínhamos fechado todos os jornais e soubemos que havia o furo dentro do “Diário do Paraná”, cercamos o jornal e não deixamos sair o que eles já tinham conseguido imprimir. Não deixamos sair, depois de termos cometido algumas violências, como sequestrar o impressor do jornal, que é uma pessoa-chave, levando-o para tomar uma cachaça e levá-lo com a gente para outros lugares. Houve essa manifestação no “Diário do Paraná – nós paramos e ficamos em frente ao jornal, embaixo das rodas imensas de um carro de bombeiros.
Foi criada uma situação complicadíssima. Eu lembro que vi o Adherbal Fortes completamente recurvado junto com os gráficos embaixo desse enorme caminhão dos bombeiros para imobilizar a polícia. Nessa hora, vieram com uma proposta que, para mim, foi ótima pelo meu temperamento: ir a uma rádio, colocar uma rádio no ar. Era a Rádio Independência, o Repórter Petrobras, um companheiro nosso da rádio fez isso. Isso aí é perfeitamente enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Contei até cinco, botaram a rádio no ar e eu entrei assim “Milhares de pessoas assistem estarrecidas à mais brutal manifestação de forças.”
Isso não tem nada a ver com jornalismo, mas provocou um tumulto e, dentro de poucos minutos, a rua fechou e a polícia ficou inibida, ficou impotente para agir. Aí os políticos chegaram, chegaram os deputados, o próprio chefe de polícia – Ítalo Conti – foi lá e tudo foi se moderando, moderando, e nós saímos vitoriosos. Outro detalhe deste evento: o Abdo Aref Kudri, que hoje é o presidente do Sindicato das Empresas e da Associação de Jornais e Revistas, tinha uma disputa com o Adherbal Stresser, e vivia cutucando-o, não gostava dele mesmo. E o Abdo Aref Kudri ofereceu o jornal dele, o “Diário Popular”, para ser o jornal da greve. E nós imprimimos, dentro do “Diário Popular”, as três edições que saíram do jornal da greve.
José Wille – Você participou do começo da TV Paraná, o Canal 6. Como foi esse início, a primeira, em 1960?
Luiz Geraldo Mazza – A televisão ficou a reboque do jornal. Porque Chateaubriand foi ousado, criou uma televisão nesse país que não tinha receptores, não havia televisores. Então, aqui no Paraná, quando veio, bem mais tarde, a TV Tupi, nós tivemos um quadro mais ou menos parecido. A televisão não tinha esse poder que tem hoje, de densidade de audiência e tudo o mais.
Eu lembro claramente que esse começo era tão lento que até possibilitava aquela criatividade do Osni Bermudes, que fazia não só as traquitanas na passagem de programas com figuras mecânicas, como também usava situações com imagens naturais, como canários, peixes em aquário, que davam um efeito belíssimo. Aquilo tudo era novidade para a gente. Nós estávamos descobrindo o mundo através da televisão com essa possibilidade dos close ups, essa grande aproximação. Então, tudo isso empolgava. Quando lançamos a televisão, no dia 19 de dezembro, inclusive veio toda a cúpula dos associados para cá. E tivemos que fazer um programa histórico. Eu fiquei encarregado de fazer a parte relativa não ao roteiro, que ficou por conta do Valêncio Xavier, mas de script, e colaborei de modo geral nas locações.
O Scliar, o irmão do escritor, era o encarregado da direção e da fotografia. Eram figuras de Rugendas, e nós fomos contando a história do Paraná através desses quadros. Às vezes, incluíamos figuras reais, como a cena do ataque ao navio Cormorant em Paranaguá, aquele navio-negreiro perseguido por um navio inglês e, como o Brasil era a favor da escravatura, virou um heroísmo às avessas. Éramos a favor da escravatura e estávamos combatendo um navio que combatia o navio-negreiro em nossas águas. Então, o Scliar pegou uma caravela, pegou um canhão, fez o travelingcom um fiozinho e aquilo se encaixou maravilhosamente bem.
A música era de Villa Lobos, a Primeira Missa. Sobre Villa Lobos, eu tenho que contar um detalhe: ele foi um grande companheiro de um avô meu, coisa que eu soube bem mais tarde. O Rodolfo Veiga, irmão do Alberto Veiga lá de Paranaguá, diz que o Villa Lobos morou dois anos em Paranaguá, trabalhando em uma fábrica de fósforos de duas cabeças. E tem uma história de um recital que houve em Paranaguá, que pessoas como o jornalista Fábio Campana estão tentando recuperar, refazer aquele ato com várias composições do próprio Villa Lobos. Eu fiz parênteses nisso para mostrar a preocupação que houve nesse caso – e eram interessantes, pois eram figuras paradas, uma coisa talvez admissível em um país acostumado com arte clássica.
Tem um filme do Visconti, “Rocco e seus irmãos”, com uma cena que é a sequência de figuras paradas na televisão. E isso aí foi um feito nosso, na época, mas, infelizmente, perderam as fitas. E, recentemente, houve uma tese em São Paulo sobre o Scliar, para a qual pediram o meu depoimento e do Valêncio a respeito desse feito, que foi um grande acontecimento – o lançamento de um programa de uma hora, com figuras paradas, em que a gente usava o recurso de traveling, de aproximação da câmera e fazia esse jogo para dar movimentação.

José Wille – Simultaneamente, você prosseguiu o trabalho com o “Diário do Paraná”, com a “Última Hora”, e fazendo programas de debates na televisão. Esta era sua especialidade: fazer programas de debates sobre assuntos polêmicos na TV.
Luiz Geraldo Mazza – Bom, tem duas coisas bem interessantes. Eu tinha um programa chamado Fórum de Debates. Eu apresentava o programa e ficava num lugar bem alto e meus convidados ficavam em um lugar bem mais baixo. Parecia um tribunal da Inquisição e eu era lá o dono do pedaço. Eu lembro de muitos programas interessantes, por exemplo, Fernando Ferrari com aquela campanha do Mãos Limpas…
Em um deles, houve um debate sobre o comunismo e integralismo – era o Vieira Neto contra o Edgar Távora, duas figuras maravilhosas no Paraná. O Vieira Neto era marxista, o Edgard Távora integralista, e fizeram dois programas seguidos, foi uma audiência assim maluca… As pessoas brigavam nos bares, porque tinha muito televizinho nessa época. E eles começaram a abrir livros… Quando chegou no último debate, parecia uma trincheira de livros, cada um abrindo um livro para citar um argumento. Foi uma coisa impressionante! Teve esse e teve outro também.
Veja como o Brasil estava tomado pela Guerra Fria. A questão das relações do Brasil com a União Soviética era um ato de soberania, não tinha problema nenhum. Mas havia gente aqui que resistia. O Oscar Schrappe Sobrinho, que era um grande dirigente da ação comercial, um homem mais da direita, era contra. Achava que era uma barbaridade, que a importação de mercadoria importaria ideologia. Eram os preconceitos da época. E o outro debatedor era um homem do Partido Comunista, de esquerda, também conselheiro da Associação Comercial, o Aristides Violes, já falecido, uma grande figura.
Então, no meio do debate, o Violes, sempre mexendo o corpo, a perna, debochado e irônico, e que não tinha noção da sensibilidade do microfone, o boom, virou-se para o Schrappe pedindo um aparte, virou-se para mim, falando baixinho, mas que foi ouvido pelo microfone, deu uma batida com o braço e disse “com essa, nós acabamos com esse alemão nazista”. E foi para o ar… (risos)
José Wille – Mazza, com essa militância toda que você teve no começo da década de 60, como foi em 1964?
Luiz Geraldo Mazza – Isso tudo é uma continuidade que tivemos desde o suicídio do Getúlio Vargas, em 1954… Que inclusive é uma coisa curiosa. Meu pai sempre foi getulista, e eu estava na faculdade. Eu brigava e discutia com ele, porque nós estávamos empolgados, não pela pregação do Lacerda, mas por aquele caso da guarda pessoal do Getúlio estar envolvida no atentado contra o Carlos Lacerda, o que começou a nos colocar em uma posição contrária ao Getúlio. Então, quando eu cheguei à faculdade e ouvi pelos altofalantes a notícia do suicídio dele, voltei para casa para abraçar meu pai, com aquele sentimento de culpa que boa parte da sociedade brasileira estava tendo naquele momento. Ele foi sábio na hora que tomou essa decisão, pois arrebentou o processo que estava em andamento na área militar e empresarial e conseguiu a vitória através do Juscelino Kubitschek.
Mas, cito isso para dizer que é uma sequência, era o quadro da Guerra Fria, o que alimentava tudo isso era a Guerra Fria, a existência dos blocos, a União Soviética de um lado, os Estados Unidos de outro. Depois, houve até uma contestação nisso – a China, com certa independência, mas, de qualquer forma, esse era o quadro que nos manipulava. Nós achávamos que tínhamos o livre arbítrio, que estávamos fazendo as coisas corretamente. Mas, na verdade, nós éramos manipulados, títeres de uma situação mais geral. E isso ficou provado quando veio 1961. Nesse ano, com a renúncia do Jânio, nós tivemos mobilização aqui em Curitiba. Eu lembro claramente que o prefeito, general Iberê de Matos, chegou a armar a população, chamou o povo para montar as brigadas da população, voluntários…
Ele assumiu o comando como se fosse a reencarnação do Brizola em Curitiba. O Brizola fazia a resistência lá no Rio Grande do Sul, com a Cadeia da Legalidade, uma cadeia de emissoras, conseguiu o apoio do Terceiro Exército, o apoio, é claro, da Brigada Gaúcha, e, de repente, criou um problema, um jogo de xadrez difícil para os militares. Eles tiveram que engolir a situação. Eu conto isso para mostrar um lado em que esses momentos de frisonnem sempre correspondem àquilo que está na cabeça da gente. O Iberê de Matos foi o grande líder naquele momento, foi o homem que ganhou emocionalmente a batalha. Pois bem, ele, naquele ano, em 1962 ou um pouquinho depois, foi candidato a deputado estadual pelo PTB e ficou em oitava suplência.
Então, eu faço seguidamente um alertamento para esta fábula dessa confiança excessiva na luta de rua, que era nossa crença também – é uma coisa de valor relativo, o que ficou demonstrado aí. E, em 1964, todas essas coisas confluíram. Foi a junção de um processo que vinha desde 1946, desde a derrubada do Getúlio, e foi se acumulando. Chegamos em 1964 e aí vieram as cobranças. Porque, na verdade, nós, que acreditávamos na pregação das reformas do João Goulart, não enxergávamos a quebra de autoridade, de hierarquia que estava havendo e que aquilo não podia ter um bom resultado.
Nós achávamos que o comício das reformas na Central do Brasil era uma resposta suficiente para o povo brasileiro. Mas aí vieram as pregações apoiadas pelo povo americano, isso está mais do que provado hoje – o padre Peyton, que veio para cá fazer pregação, e saíram com aquelas passeatas, que eram muito mais numerosas que as que foram feitas na Central do Brasil. Então, ganharam a batalha das ruas. Como se ganhará hoje, pois muita gente olha o caso dos sem-terra e acha que isso é uma revolução. Isso parece mais uma gincana, porque não está havendo confronto. Na hora que adotarem as medidas para exigir o despejo judicial, esse movimento esvazia.

José Wille – Mas em sua vida, naquele momento, como foi o reflexo de 64? Profissionalmente, você ficou em disponibilidade no governo do estado, pois você trabalhava para eles, tinha até exercido um cargo na direção de uma área de turismo do governo Ney Braga. Como afetou sua vida?
Luiz Geraldo Mazza – Foi da seguinte forma… Nós estávamos crentes que o nosso caminho era o correto. Lembro que o Luís Carlos Prestes esteve aqui em Curitiba, em uma palestra que fez na Faculdade de Direito de Curitiba, e até pessoas que eram notoriamente ligadas aos organismos paramilitares, que combatiam no comando de caça aos comunistas, deram segurança para ele. Então, até o próprio sistema tinha interesse que o Prestes falasse. Ele estava tão mal informado sobre a situação brasileira, sobre a questão logística militar, que chegou a dizer “agora eu quero ver a direita tirar a cara de fora, que vai ver o que é bom”. E a direita tirou a cara e não saiu mais, essa é a verdade.
Então, havia todo esse processo, e aqui não houve grande resistência. Esperava-se uma coluna que poderia vir do Rio Grande do Sul – falou-se muito nisso – mas não aconteceu nada. Aquilo que havia acontecido em 1961 não se repetiu em 1964. Não aconteceu o jogo de xadrez, não houve o blefe, nós tivemos a vitória normal naquele movimento. E aí veio a onda da perseguição. O Ney Braga foi pressionado, porque o Ney tinha sido, por exemplo, a favor da queda do parlamentarismo para o João Goulart, porque ele precisava disso para tornar viável o governo dele, e apostara tudo no governo do Jânio Quadros.
A campanha era assim: “Quem é Ney é Jânio e quem é Jânio é Ney”, quer dizer, ele os colocava como figuras inseparáveis. E, quando o Jânio saiu, ele ainda tentou um apelo patético, pedindo ao presidente que retornasse. Não aconteceu isso. E o Ney ficou meio marcado também, porque dava apoio ao jornal “Última Hora”, que era o nosso jornal, um jornal ligado ao PTB, que cobria desde Getúlio Vargas e que era o grande alvo visado pelos dois organismos de direita no Brasil: o IPES – Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, dirigido pelo Golbery do Couto e Silva – o gênio do Golpe e que organizou o empresariado contra a situação que estava ocorrendo no Brasil – e o IBABE, que era barra-pesada, a linha, vamos dizer, hidrófoba da direita, dirigida pelo Amaral Neto, aquela pessoa que vocês conheceram da televisão e da própria atividade parlamentar do país.
Então, esse era o quadro, e o Ney Braga também foi pressionado, porque era de uma linha mais suave do grupo militar, pois tinha que ter alguns créditos com pessoas atingidas. Eu entrei nessa lista. Mas ele nos deu uma meia punição. Eu fui colocado em disponibilidade – ele não queria prejudicar a família. E realmente não prejudicou, porque eu recebia, mas fiquei fora do Estado, até a anistia – eu, Adherbal Fortes e vários que tinham esses antecedentes. Mas o nosso envolvimento era claramente pela “Última Hora”, que era o jornal que assustava todo mundo. Então, a “Última Hora”, como preservava o Ney, sofreu essa cobrança.
Eu sou testemunha, porque num dia, já no segundo governo do Regime Revolucionário, eu estava no cinema e um engenheiro foi me buscar lá dentro, alegando que havia duas pessoas que queriam falar comigo. Eram dois militares, coronéis da linha dura, que vieram aqui e queriam me levar num avião da FAB para eu prestar um depoimento sobre como funcionava o sistema de comunicação. E eu me recusei. O engenheiro era meu conhecido e eu até coloquei um problema, uma situação de constrangimento ali, dizendo “me admiro de ele estar aqui, pois eu o vi carregar o Ney Braga nas costas.
Ele deve ter algum ressentimento, porque o pai dele poderia ter sido desembargador e não foi nomeado”. E Curitiba é uma cidade tão inconfidente que, dias depois, a dona Nice, através de outra pessoa, vinha apresentar um agradecimento por essa rejeição minha, por ter rechaçado essa tentativa. E o Ney Braga foi candidato aqui contra o Costa e Silva, e ganhou em Curitiba, que era um colégio eleitoral na Assembleia, que podia indicar os dois. E ele aqui ganhou, levou a melhor. Foi um momento importante, mas que mostrava a briga entre pombos e falcões. O Ney Braga era mais do grupo do Geisel, do Castelo Branco – que depois foi verificar com o Geisel como o Ney era considerado no meio desse pessoal. Inclusive muitos achavam que ele poderia ter sido presidente da República.
José Wille – Como pesou a ameaça de prisão naquele momento?
Luiz Geraldo Mazza – Havia certa paranoia da nossa parte. Nós nos achávamos mais importantes do que éramos. Isso é típico de dirigente estudantil, de militante em qualquer movimento. A gente vê pelo Stedile e o que ele fala. Fala como se fosse o dono da cocada preta. Nós também agíamos assim… Mas a verdade é que tinha sido desencadeada uma onda de ódio por aí, esse troço de um entregar o outro. Para ganhar algum tipo de notoriedade, queriam entregar pessoas que tivessem qualquer tipo de pensamento liberal, mas com alguma tonalidade à esquerda. Então, nós tivemos que tomar algumas cautelas.
Eu tomei, inventei uma piada que me caricaturava para criar uma defesa. A piada era a seguinte: eu ligava disfarçando a voz para o Miguel Zacarias, delegado da DOPS – Delegacia de Ordem Política e Social – e dizia assim: “Miguel, quando vocês vão prender esse aí, o Mazza?”. E aí dizia que o Miguel respondia de lá: “Lulu, não me encha o saco”. Lulu é o meu apelido. Então, eu criei a piada com a qual eu passei a viver dentro da Boca Maldita. E dizia “aqui não vão me prender”. Só que, em 1965, houve um quebra-quebra, quando Paulo Pimentel comemorava sua vitória, que foi muito estreita sobre o Bento Munhoz da Rocha, e veio um policial que eu conhecia, o Aymoré, que depois virou delegado de polícia, com uma ordem de prisão.
Eu disse “olha, eu não vou, eu só vou com as perninhas rolando e em um carro descaracterizado. Só vou assim”. E aí eu fui. Não houve nada, porque, no dia do quebra-quebra, eu estava com uma pessoa, o major Paulo Lenzi, no cinema e, ao sair de lá, vi aqueles vidros moídos na rua, os engraxates e guardadores de carro tinham quebrado tudo. E eles atribuíram tudo isso a mim e ao Anfrísio Siqueira, o presidente da Boca. E aí o Anfrísio procurou naturalmente sua defesa e eu tive que encarar esse problema.
Quando eu cheguei lá na DOPS, me perguntaram onde estava no dia que houve esse problema e respondi que estava com o major Paulo Lenzi. O cara ficou branco! Porque o Paulo Lenzi era da Segunda Seção e ele não sabia. Então, ligou para o Paulo Lenzi, que confirmou que “estava com o Mazza no cinema e depois fomos ver até que ponto havia sido atingido o comitê do Paulo Pimentel”. Houve outro episódio, muito engraçado, porque o Miguel Zacarias era amigo da gente e ele era uma pessoa que costumava dar armas para o pessoal da esquerda.
Ele teve um atrito no Rio Grande do Sul, foi cercado por comunistas, trocou tiros e matou algumas pessoas. Com isso, ele acabou indo a júri, mas foi absolvido; porém, teve esse problema. Ele se aproximava – e a gente atribuía em parte àquela ocorrência – mas ele era uma pessoa generosa mesmo – e dava armas. Veja que maluquice: dar armas! Ele achava tão perigosos os comunistas e os caras de esquerda que lhes dava armas. Então, eu achava que o Miguel era um trunfo, na hipótese de haver qualquer problema comigo. Eu tinha filhas pequenas e vivia enchendo a paciência da minha mulher, dizendo “qualquer hora eles vêm aí” e tal. Um dia, alguém bateu na janela de casa. Olhei e era o filho do Miguel Zacarias. Eu disse “Luci, os caras estão aí!”. E minha mulher “felizmente eles chegaram!”, porque eu já estava enchendo com aquela paranoia.
Abri a porta e, querendo mostrar naturalidade, disse “Sérgio, eu estava te esperando…” E ele “Por quê? Eu quero falar com um cara do quarto andar”. (risos) Diziam que eu desejava a prisão. Ninguém deseja a prisão, só um débil mental pode querer isso. Uma pessoa que ama a liberdade como eu não pode desejar a prisão. Nem ter isso aí, como eu marcava com os guris quando matava passarinho, marcos feitos na cetra, “quantas vezes fui preso, quantas vezes fui torturado”. Na verdade, não são tantos assim os torturados. Claro, mataram o Vladimir Herzog. Nós brigamos contra isso, lutamos seriamente. O Geisel detonou todo o sistema militar da época e, se nós compararmos a questão das violências aplicadas no Chile e na Argentina com o Brasil, aqui foi bem menor. Mas não se justificam casos de morte e de tortura, isso aí tem que punir mesmo.
José Wille – Mazza, na década de 70 você foi para a direção de jornalismo na TV Paranaense, Canal 12.
Luiz Geraldo Mazza – Nós vivemos um momento muito experimental, pois as condições eram as mais precárias possíveis. Eu entrei no Canal 12 através de um convite do Luiz Alfredo Malucelli, o Malu, que era da parte comercial, para montar um programa de esporte com uma linguagem nova, que a rigor era um decalque – piorado, claro – do Show de Jornal, que foi o maior momento da televisão e do jornalismo paranaenses. Lançamos o Carlos Marassi, que ainda é o melhor apresentador que nós temos, o Almir Feijó Júnior e também a Fátima Freire Maia, a filha do Newton Freire Maia.
Então, era um esquema de jornal dialogado, do tipo jogral, característica do jornalismo que se adotava na época. Aí, o diretor de jornalismo saiu da emissora, porque foi convidado para ir a outro centro do país, e eu assumi o jornalismo do Canal 12. Era muito difícil fazer o programa: não havia recursos, não havia equipamentos, era uma fase duríssima. E nós, assim mesmo… Tínhamos inclusive problemas de programas ao vivo, que eram os de maior audiência, como o Telecatch.
A grande audiência eram filmes como, por exemplo, “O Homem de Seis Milhões de Dólares”. E, com o tempo, nós tivemos que nos adaptar, porque veio a questão da Globo, que foi uma decisão política do regime, tirando a programação do Paulo Pimentel e passando-a para o dr. Francisco Cunha Pereira e o Lemanski, que eram os donos do Canal 12. E, em função disto, o canal teve que naturalmente se equipar. Aí mudou de figura – teve equipamento, e à vontade. Eu peguei pouco essa fase, com a emissora já equipada, e não precisava mais do Telecine, que era um grande drama nosso. Eu peguei apenas dois anos e meio dessa fase com a Globo.

José Wille – Antes era na improvisação. Esse jornal da hora do almoço exigia muitas participações?
Luiz Geraldo Mazza – Só para você ter uma ideia, o jornal se chamava Redação. Escrevia aqueles textos enormes, você não tinha imagem para colocar no ar. Aí você improvisava, ia para o arquivo com filme negativo… Quando conseguia de uma embaixada aqueles filmes culturais, você forçava a barra e o punha como apoio de imagem. Quer dizer, uma coisa muito pouco profissional, muito artesanal… Teve um episódio… Um dia, fui à casa da Edie Izabel, que fazia o programa feminino na emissora, e eu bati no estábile, uma escultura modernérrima do Calder.
Perguntei como ela tinha uma obra daquela importância e ela disse que era um presente dado por Orson Welles ao marido dela, que havia sido seu amigo. Aí, no dia em que o Calder morreu, nós fomos fazer o programa na casa da Edie e eu coloquei aquele móbile –não era um estábile, porque esse é parado – no ar e o jornal correu. E, muitas vezes, a câmera pegava a peça escultural e fiz uma explicação sobre a morte do Calder. Isso dá uma ideia de como era a criatividade.
No duro, era muito mais rádio do que televisão… Aliás, eu ainda acho que a televisão carece de uma linguagem apropriada. Temos pouquíssimas coisas na televisão com linguagem própria… O Casseta e Planeta é uma das mais firmes manifestações de linguagem apropriada, mas o resto tem uma força ainda do rádio, de show, de programa de auditório, dos programas cômicos. As criações do Chico Anísio, principalmente, são um tipo de produção que tem uma carga muito forte do rádio ainda.
José Wille – Como foi a sua saída do Canal 12, em 1980, e sua volta para o jornal por um longo tempo?
Luiz Geraldo Mazza – No Canal 12, tive um problema. Tinha uma notícia que chegou lá, que era do interesse do Affonso Camargo. Tinha uma ordem que foi transmitida ao Miguel Tanamati, jornalista, repórter por muitos anos da Globo, dizendo que aquela notícia seria redigida daquele jeito. Mas era um absurdo, cheia de adjetivos. O adjetivo é o câncer da frase, quer dizer, você não pode agredir uma pessoa com excessos de adjetivos. Eu peguei a responsabilidade de deixar aquilo conciso. Ora, mas aquela redação tinha sido feita pelos dois titulares da redação, o dr. Francisco e o Lemanski. Aí, houve a cobrança para cima de mim e, então, dei uma resposta irreverente. O Francisco, tolerante com as minhas irreverências, só reclamou que eles tinham pedido para colocar aquela nota. Mas “essa nota, não dá!”. E eu disse ainda “até admito incompatibilidade ideológica, gramatical não! Por uma questão de estilo, de linguagem de televisão, de depurar a linguagem”. Mas acabei não ficando, saí da organização.
Fizemos um acordo – o Francisco, para mostrar que não tinha nenhum problema comigo, e o próprio Lemanski, que também era sócio da “Gazeta do Povo”, e passei a escrever no jornal. Nós criamos esses minieditoriais, artigos que o jornal “O Globo” tem. E foi um grande sucesso! Mas, demorou um mês, então acabou… A proposta que me fizeram foi inaceitável. Não fiquei no jornal e voltei para cuidar de outros, como a “Folha de Londrina” e “Correio de Notícias”. Depois, eu entrei na “Folha de São Paulo”, escrevia aquele artigo do Paraná, substituindo o Nereu Teixeira, que substituíra o nosso Reinaldo Jardim. A atuação em termos nacionais mais importante que eu tive foi essa fase da atuação na “Folha de São Paulo”.
José Wille – Você se engajou na campanha de Roberto Requião. Porém, mais tarde, houve um afastamento e o processo contra você por parte de Requião.
Luiz Geraldo Mazza – Eu sempre traduzi o Requião como a subversão do diagrama. O Requião é um cara que não tem nada a ver com a comunidade… Havia um pouco de loucura, entre aspas – não vamos dar espaço aqui para ele me processar mais uma vez. Essa capacidade de romper com as coisas que estão acomodadas é o que nos empolgava no Requião. Fomos até injustos. Era uma campanha engajada contra o Lerner, de quem sou amigo, mas moeram o Lerner.
Eu lembro que a Martinha Schulman, depois que nós ganhamos a eleição, me ligava de manhã lá para casa e dizia “está satisfeito? Você destruiu o homem”. E eu dizia “mas ele é muito maior do que isso”, mas ela, muito engajada, ficou bronqueada. Nós realmente fizemos um trabalho para arrebentar com o mito Lerner, mostrando os aspectos negativos de todo esse marketing que tem em cima dele. Mas o Requião foi eleito pelo José Richa, que o carregou nas costas; pelo Fruet, que foi fazer briga corporal nos terminais; pelo Álvaro Dias; por toda aquela estrutura que o PMDB tinha naquela época. E, para o governo, foi a mesma coisa: nós também brigamos pelo Requião.
E, é claro, na sequência, que eu briguei com ele na Prefeitura, porque ele não gosta de opinião contrária. É um talento, é uma pessoa que tem uma capacidade de verbalização extraordinária, mas não dá para monitorar, nem ele se monitora. Então, esse é o problema: quando a própria pessoa não tem esse autocontrole, não adianta. Como nós vimos nessa última manifestação dele através do programa do PMDB. Houve isso, faz parte da vida de todos nós, a gente não tem ressentimento por isso, eu não considero o Requião um inimigo, mas sim um adversário. E acho que ele está fazendo, em alguns aspectos, um trabalho bom, como, por exemplo, na CPI dos precatórios.
José Wille – Mazza, finalizando, então: nos últimos dois anos na “Folha do Paraná”, na CBN, em uma experiência nova de rádio diário, como você analisa essa nova fase da sua carreira?
Luiz Geraldo Mazza – Bom, eu acho que eu estou maduro, com 66 anos. Estou aprendendo muito. Estou aprendendo inclusive a ter esse respeito maior para com a pessoa que está ouvindo a gente, porque interativo mesmo é o processo de comunicação do rádio. O curitibano é tido como muito encolhido e muito introvertido. Mas as pessoas, quando provocadas, se manifestam.
Então, esse processo a duas mãos, de você ouvir o outro lado, de você ouvir o povo, aquele que faz parte do auditório, isto é uma coisa extraordinária. Que no jornalismo a gente tem, mas não tem com essa abrangência do rádio, que é uma mídia quente, com capacidade de envolver a gente, inclusive afetivamente com as pessoas, que ouvem e procuram a gente como se fôssemos uma coisa importante. Eu me considero nada importante, acho que tudo o que tenho feito se resume nisso. Eu, basicamente, embora formado em Direito e embora procurador aposentado do Estado, considero-me essencialmente um jornalista.